Aurélio e as Memórias Que Não Morrem |Dauan Lopez*
- Silvio Carneiro
- 21 de ago. de 2025
- 12 min de leitura

No dia em que Bernardo completou oito anos, o mundo parecia feito de fitas coloridas e balões suspensos. A casa cheirava a bolo de chocolate e brigadeiro, e as risadas dos primos enchiam todos os cômodos. Mas, entre os muitos presentes embrulhados com carinho, foi uma pequena caixa de acetato — furadinha nas laterais, com uma tampa mal encaixada — que chamou mais sua atenção.
Dentro, nadava um peixinho dourado
Ele era minúsculo, quase do tamanho do polegar de Bernardo, mas seus olhos escuros pareciam atentos como os de um velho sábio. Bernardo o observou em silêncio por um instante, depois sorriu. Deu-lhe um nome: Aurélio.
A partir daquele dia, os dois tornaram-se inseparáveis — ou o mais inseparáveis que um menino e um peixe podem ser
Bernardo colocava a cadeira de frente para o aquário e contava tudo: como tinha ido à escola, o que aprendera sobre as formigas, a briga boba que teve com a prima Laura, o sonho estranho em que voava entre nuvens de algodão-doce. Aurélio não respondia, claro, mas Bernardo jurava que ele piscava de um jeito diferente quando a história era boa. Às vezes, até fazia bolhas.
— Eu sei que você me entende — dizia o menino, com os olhos grandes e sinceros. — A gente tem um segredo só nosso, né?!
Com o tempo, Bernardo começou a falar menos com os outros. Preferia a companhia silenciosa de Aurélio às conversas barulhentas dos adultos. Quando a mãe perguntava com quem ele estava conversando no quarto, ele respondia:
— Com meu amigo.
— Com o peixinho? — ela ria, achando graça.
— É. Ele me escuta melhor do que qualquer pessoa.
Numa tarde cinzenta, enquanto chovia fino lá fora e o mundo parecia querer dormir, Bernardo aproximou o rosto do vidro e sussurrou:
— Você acha que eu vou crescer e esquecer de você?
Aurélio deu uma volta lenta no aquário. Depois, parou e ficou ali, imóvel, como se pensasse.
Bernardo sorriu.
Ele sabia a resposta.
Os meses foram passando como folhas sopradas pelo vento. Bernardo crescia em centímetros e perguntas, mas Aurélio permanecia ali, dourado e sereno, dentro de seu pequeno mundo transparente. O aquário era colocado sobre a escrivaninha, ao lado da janela, onde o sol entrava gentil, dourando ainda mais suas escamas e enchendo o quarto de reflexos dançantes nas paredes.
Bernardo se acostumou a dividir tudo com Aurélio. Cada dia era como uma carta falada, endereçada ao amigo submerso.
— Hoje eu fui o último a ser escolhido no futebol… — dizia, com a voz baixa.
Aurélio nadava devagar, subia à superfície, como se prestasse atenção.
— Mas tudo bem, eu joguei bem mesmo assim. Talvez amanhã eles escolham melhor.
Quando Bernardo descobriu que sua melhor amiga ia mudar de escola, ele chorou baixinho encostado na beirada do aquário.
— As pessoas sempre vão embora, né, Aurélio? Mas você não. Você tá sempre aqui.
À noite, às vezes, ficava deitado de lado na cama, só observando os movimentos suaves do peixe no escuro. Era reconfortante — como se houvesse uma calma que nada, nem ninguém, poderia tirar dali.
Na escola, escrevia sobre o seu melhor amigo e descrevia Aurélio com tanto carinho que a professora, confusa, chamou a mãe de Bernardo para conversar. A mãe sorriu, dizendo que era só uma fase, que crianças tinham imaginação fértil. Mas, para Bernardo, não havia invenção: havia afeto. Aurélio existia do jeito mais bonito que alguém pode existir — no silêncio da escuta e no espaço seguro da confiança.
Foi então que chegou o mês de julho, quente e preguiçoso, e com ele as férias.
— Nós vamos passar duas semanas na casa da vovó! — anunciou a mãe, empolgada.
Bernardo hesitou.
— E o Aurélio?
— Ele vai ficar bem. Vamos pedir para a vizinha cuidar dele, lembra? A dona Norma adora peixes.
Mas Bernardo não se convenceu. Ficou parado na frente do aquário por longos minutos, como quem pressente uma distância que ainda nem começou. Tocou o vidro com a ponta do dedo.
— Eu volto logo, tá? Não faz muita bolha enquanto eu estiver fora. Espera por mim.
Na manhã da viagem, Bernardo se despediu com os olhos marejados. A dona Norma apareceu com um sorriso gentil, prometendo trocar a água, dar a comida certa e até conversar com o peixinho de vez em quando.
Mas Bernardo sabia. Ninguém sabia conversar com Aurélio como ele.
No banco de trás do carro, enquanto o mundo passava depressa pela janela, Bernardo levou consigo uma saudade que ainda nem tinha acontecido — e um medo sutil, daqueles que só as crianças sentem, de que quando ele voltasse, o mundo dentro do aquário talvez tivesse mudado.
A casa da avó de Bernardo era grande e cheirava a bolo de milho, com janelas que rangiam ao abrir e paredes cheias de retratos antigos. No quintal, galinhas ciscavam em círculos, e um balanço de cordas gastas pendia de uma goiabeira frondosa. Tudo ali parecia feito de outra época — mais lenta, mais quente, mais esquecida.
No primeiro dia, Bernardo correu pelo gramado, comeu biscoito amanteigado com leite e ouviu a avó contar histórias de quando era menina. Sorriu um pouco, até riu. Mas no fundo da tarde, quando o céu começava a ganhar tons de laranja, ele sentiu falta do barulho suave da água do aquário, do reflexo dourado se movendo pelas paredes do quarto. Sentiu falta de Aurélio.
Naquela noite, deitou-se numa cama diferente, num quarto cheio de móveis baixos e colchas de crochê. Olhou o teto, e depois o escuro. Pensou no aquário, nos pezinhos redondos do suporte, no som das bolhas subindo devagar. Sussurrou para o travesseiro:
— Boa noite, Aurélio.
No segundo dia, desenhou um peixe num pedaço de papel e colou na parede. Mas o papel não se movia, não o olhava de volta.
No terceiro, tentou brincar com os primos, mas se afastou cedo, sentando-se perto da varanda, só observando o céu e os pássaros, calado.
A avó, de olhos atentos, começou a notar.
— O que foi, meu anjo? Tá sentindo falta de casa?
Ele pensou em responder. Mas como explicar que não era da casa? Era de um amigo silencioso. Um peixe. Um ser que ninguém mais entendia do mesmo jeito.
Então ele só balançou a cabeça.
— Tô cansado.
Os dias seguintes se tornaram longos e nublados por dentro. Bernardo caminhava devagar, não respondia com entusiasmo, comia menos. Começou a evitar até as histórias da avó, como se estivesse sempre à espera de algo. Como se um pedaço dele tivesse ficado preso atrás do vidro de um aquário.
Certa tarde, chovia. Bernardo sentou-se perto da janela e escreveu no vidro embaçado com o dedo:
“Aurélio.”
Ficou olhando a palavra desaparecer devagar. Depois, sussurrou:
— E se você esquecer de mim?
Não havia resposta.
E foi aí que Bernardo sentiu, pela primeira vez, um medo profundo — não do escuro, nem dos trovões, mas de ser esquecido por aquele a quem ele mais confiou suas palavras.
A viagem de volta pareceu mais longa que a de ida. O carro avançava pela estrada empoeirada, mas Bernardo não olhava pela janela. Segurava o cinto com as duas mãos e mantinha os olhos fixos no encosto do banco da frente. O coração, pequeno e apertado, batia num compasso estranho — uma mistura de esperança e pressentimento.
Chegaram no fim da tarde.
A mãe desceu animada, agradecendo à vizinha por ter cuidado da casa. Bernardo, sem dizer nada, correu direto para o quarto.
O som dos passos descalços ecoou pelo corredor. A porta rangeu ao abrir. E então ele viu.
O aquário estava lá, mas o mundo dentro dele estava imóvel.
Aurélio jazia no fundo, entre as pedrinhas coloridas. Suas escamas ainda brilhavam, mas de um brilho quieto, sem vida. Seus olhos estavam abertos, fixos em lugar nenhum. Havia silêncio demais.
Bernardo não disse uma palavra.
Ficou ali, parado, olhando. O tempo parecia ter congelado. Sentiu o peito doer — como se alguém tivesse apertado seu coração com força demais. Não era um choro barulhento, nem um grito. Era um silêncio denso, pesado, que preenchia o quarto inteiro.
A mãe se aproximou devagar. Viu o aquário e levou a mão à boca.
— Ai, filho… a dona Norma me disse que ele começou a ficar quietinho… tentou cuidar… mas…
Bernardo não respondeu. Seus olhos estavam fixos no fundo do aquário.
— Ele… ele deve ter sentido a minha falta — sussurrou, mais para si mesmo.
A mãe se ajoelhou ao lado dele, querendo dizer algo, mas nenhuma palavra parecia suficiente.
— A gente pode fazer uma despedida, se você quiser — disse, com ternura. — Enterrar ele no jardim.
Bernardo assentiu devagar.
Naquela noite, com uma caixa pequena nas mãos, ele e a mãe foram até o quintal. Fizeram um buraco entre as raízes de uma árvore, e ali repousaram Aurélio. Bernardo não chorou. Apenas ficou em silêncio, olhando o monte de terra recém-coberto.
— Ele foi meu melhor amigo — disse, com a voz fina. — E sabia guardar segredos.
A mãe acariciou os cabelos do filho.
— Então ele foi um amigo muito especial.
Antes de dormir, Bernardo voltou ao quarto e ficou parado em frente à escrivaninha vazia. O espaço onde o aquário ficava agora parecia enorme. Tocou a madeira com os dedos, como se pudesse sentir algum resto da presença de Aurélio.
Na parede, o menino havia colado um novo desenho do peixe. Bernardo olhou para ele e sorriu, triste.
— Você lembra de tudo, né? — perguntou ao papel. — Porque eu vou lembrar também.
Depois, deitou-se na cama. E pela primeira vez em muitos dias, dormiu profundamente — como se dentro dele algo tivesse se quebrado, mas também se transformado.
Nos dias que se seguiram, a casa parecia mais vazia, mesmo com a presença da mãe, o rádio ligado na cozinha ou o cachorro do vizinho latindo pela manhã. Nada preencheu o silêncio que se instalou no quarto de Bernardo.
A escrivaninha agora parecia um altar abandonado. O espaço onde o aquário ficava permanecia intocado. Bernardo não permitia que colocassem nada ali. Às vezes, apenas se sentava diante da madeira nua, em silêncio, como quem espera uma resposta de algo que não pode mais voltar.
Ele passou a falar menos.
Na escola, os cadernos ficaram em branco. Nas rodas de conversa, Bernardo escutava, mas sua cabeça vagava longe, mergulhada em lembranças que ninguém via. A professora chamou a mãe, preocupada.
— Ele está distante. — Disse.
Em casa, o menino comia pouco. Dormia tarde, com os olhos abertos no escuro, como se esperasse ouvir um barulho de bolhas. Às vezes, sussurrava para o teto:
— Eu sei que você tá em algum lugar.
O luto era silencioso. Mas presente em tudo. Até no modo como Bernardo caminhava, com os ombros mais curvados, ou como segurava os lápis sem vontade de desenhar. As cores, antes vivas, pareciam agora borradas.
Numa tarde de sábado, sua mãe o encontrou encolhido no canto do quarto, com o desenho de Aurélio amassado nas mãos. Estava molhado de lágrimas secas.
— Filho… — disse ela, ajoelhando-se. — Me fala o que você tá sentindo.
Ele demorou, mas respondeu, com a voz embargada:
— Eu sinto que perdi alguém de verdade. E ninguém entende.
A mãe o abraçou. Forte. Mas Bernardo continuava com os olhos distantes, como se abraçasse outra ausência.
Houve uma noite em que sonhou com água. Bernardo andava dentro de um rio raso, e à sua frente, Aurélio nadava em círculos, como antes. O menino ria no sonho, falava, mas quando tentava tocar o peixe, este se desfazia em bolhas douradas que subiam ao céu. Acordou com os olhos marejados e um nó preso na garganta.
Depois desse dia, Bernardo passou a desenhar peixes. Peixes solitários, voando pelo céu. Peixes em potes de vidro flutuando no espaço. Peixes dormindo no fundo do mar.
Era sua forma de guardar Aurélio, de não o deixar sumir completamente.
Mas a tristeza continuava — não mais aguda, mas espalhada, como uma névoa fina.
E Bernardo, com apenas oito anos, começou a entender que há perdas que não fazem barulho. Que há amizades que duram para sempre, mesmo quando o corpo vai embora. E que há silêncios que se tornam parte da gente.
Na escola, os dias passavam como ondas mansas e desinteressadas. As vozes das crianças soavam distantes aos ouvidos de Bernardo, como se ele estivesse debaixo d’água, ouvindo o mundo através de um vidro grosso. Ele respondia pouco. Sentava sempre perto da janela. E desenhava peixes.
Os colegas começaram a estranhar.
— Você só desenha peixe? — Perguntavam.
Alguns riam. Outros apenas observavam com curiosidade infantil. Bernardo, no entanto, não se importava. Desenhar era sua forma de respirar.
Até que, numa terça-feira abafada, durante a aula de artes, um menino chamado Rafael arrancou o desenho da mão de Bernardo e o ergueu no ar.
— Olha só! Outro peixe voador! Que coisa boba!
Outras crianças riram. Era uma provocação pequena, comum. Mas Bernardo não era mais o mesmo. Dentro dele, algo que estava contido começou a ferver, como água prestes a transbordar.
— Me dá isso! — gritou, levantando-se de repente.
— Calma, é só um desenho! — disse Rafael, ainda rindo.
Mas Bernardo avançou. Empurrou o colega com força. Os dois caíram no chão, rabiscando o silêncio da sala com gritos e empurrões. Foi preciso a professora intervir, separando os dois com braços firmes e olhos assustados.
Mais tarde, no corredor, sentado diante da coordenadora com a cabeça baixa, Bernardo se recusava a falar. A mãe foi chamada. Houve explicações, broncas. Mas ainda assim, Bernardo permanecia mudo.
Só falou horas depois, em casa, com a mãe sentada ao seu lado, perguntando baixinho o que havia acontecido.
Ele levantou os olhos, vermelhos, mas calmos. E disse, com uma firmeza inesperada:
— Ninguém entende que o Aurélio era o único que me escutava de verdade.
Silêncio.
— Eu perdi ele, ninguém sentiu. Só eu. E agora querem que eu finja que tá tudo bem… Mas não tá.
A mãe respirou fundo, tocou sua mão, e pela primeira vez não tentou consolar com palavras prontas. Apenas ficou ali, com ele, reconhecendo sua dor.
Naquela noite, Bernardo voltou a desenhar. Mas algo havia mudado.
Em vez de um peixe sozinho, desenhou dois: um no céu, e outro sobre a terra, ambos ligados por um fio invisível.
Na base do papel, escreveu com lápis de cor:
“Ainda estamos conectados.”
E pela primeira vez em muito tempo, dormiu sem desenhar lágrimas nos sonhos.
Naquela noite, a chuva caía fina sobre o telhado. O som era calmo, constante, como um sussurro antigo que embalava a casa. Bernardo estava sentado na beirada da cama, abraçado a um travesseiro. A luz do abajur projetava sombras suaves pelo quarto.
A mãe apareceu na porta com uma xícara de leite morno. Não disse nada de imediato. Apenas entrou e se sentou ao lado dele, como se soubesse que havia algo esperando para ser dito — e que precisava de silêncio antes de palavras.
Bernardo olhou para ela, com os olhos grandes e cansados de sentir tanto.
— Mãe… — começou, devagar — por que as coisas morrem?
Ela respirou fundo. Passou a mão pelos cabelos dele com cuidado.
— Essa é uma pergunta que até os adultos fazem, meu amor. Todos os dias.
— Mas por quê? Se é tão bom quando a gente ama alguém… por que isso acaba?
A mãe demorou a responder. Depois, falou com voz baixa, como se estivesse contando um segredo antigo:
— Porque tudo o que é vivo carrega dentro de si um tempo. Um tempo que a gente não pode ver… mas que corre, mesmo quando a gente não percebe. E quando esse tempo acaba, o corpo para. Mas o que a gente sente, o que a gente viveu com as pessoas que amamos… isso não morre nunca.
Bernardo franziu o cenho, pensativo.
— Mas o Aurélio não fala mais comigo.
— É verdade. O corpo dele não está mais aqui. E isso dói… porque a gente sente falta. Mas você lembra de como ele te escutava, mesmo sem falar? De como você se sentia quando estava com ele?
Bernardo assentiu, lentamente.
— Então… essas coisas continuam vivas dentro de você. A morte tira o corpo, mas o amor que você deu, o que você recebeu… esse não tem fim.
Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, perguntou:
— Então… quando eu lembro do Aurélio, é como se ele estivesse um pouquinho vivo?
A mãe sorriu, com os olhos marejados.
— Sim. Cada vez que você pensa nele com carinho… cada vez que desenha um peixe e sorri… ele continua nadando dentro de você.
Bernardo encostou a cabeça no ombro dela.
— Eu não quero esquecer ele nunca.
— E você não vai — disse ela. — Porque ele te ensinou algo precioso: que até o mais pequeno dos seres pode guardar o mais profundo dos sentimentos. E isso… ninguém tira da gente.
A chuva continuava lá fora. Mas dentro do quarto, havia uma calma nova. Uma ternura que não apagava a dor, mas a tornava mais suportável. Bernardo fechou os olhos devagar, e antes de dormir, sussurrou:
— Boa noite, Aurélio.
E dessa vez, sentiu como se o silêncio tivesse respondido.
Anos mais tarde, Bernardo ainda se recordava daquele pequeno peixe dourado com um nome grande demais: Aurélio.
Não lembrava exatamente o dia em que o ganhou, mas lembrava de como o mundo ficou mais brilhante com ele por perto. Como era bom ter alguém que o escutasse sem pressa, sem julgamento. Alguém que, mesmo sem dizer nada, estava sempre lá.
Aurélio foi o primeiro a lhe mostrar o que é amar sem esperar nada em troca. E foi também o primeiro a lhe ensinar o que é perder.
Mas não uma perda barulhenta, com gritos e lágrimas escancaradas. Foi uma perda sutil, silenciosa — como o som de uma música bem alta se apagando lá longe. E talvez por isso tenha doído tanto.
Bernardo aprendeu que a morte não leva tudo. Que o que se ama de verdade permanece, mesmo que transformado. Aprendeu que o luto é uma travessia: escura, solitária, mas necessária. E que, do outro lado, algo nasce — não igual ao que havia antes, mas cheio daquilo que foi.
Aprendeu que o amor cabe num aquário, num desenho, num silêncio compartilhado com a mãe. Que crescer é, muitas vezes, aprender a guardar dentro do peito aquilo que o tempo insiste em levar.
E, sobretudo, aprendeu que a morte não é o fim das coisas. É só o começo de uma outra forma de lembrar, de sentir, de existir.
Porque tudo o que é verdadeiramente amado encontra uma maneira de continuar vivo, mesmo que seja apenas no brilho silencioso de um peixe dourado, nadando, para sempre, dentro da memória de um menino — onde as coisas que realmente importam jamais podem morrer.
*Dauan Lopez, estudante de letras pela UEAP, nascido em Macapá e crescido no Bailique, desenvolveu um grande amor pela leitura aos 8 anos e aos 12 começou a escrever seus próprios contos. Poeta, amante de Clarice Lispector e desenhista.




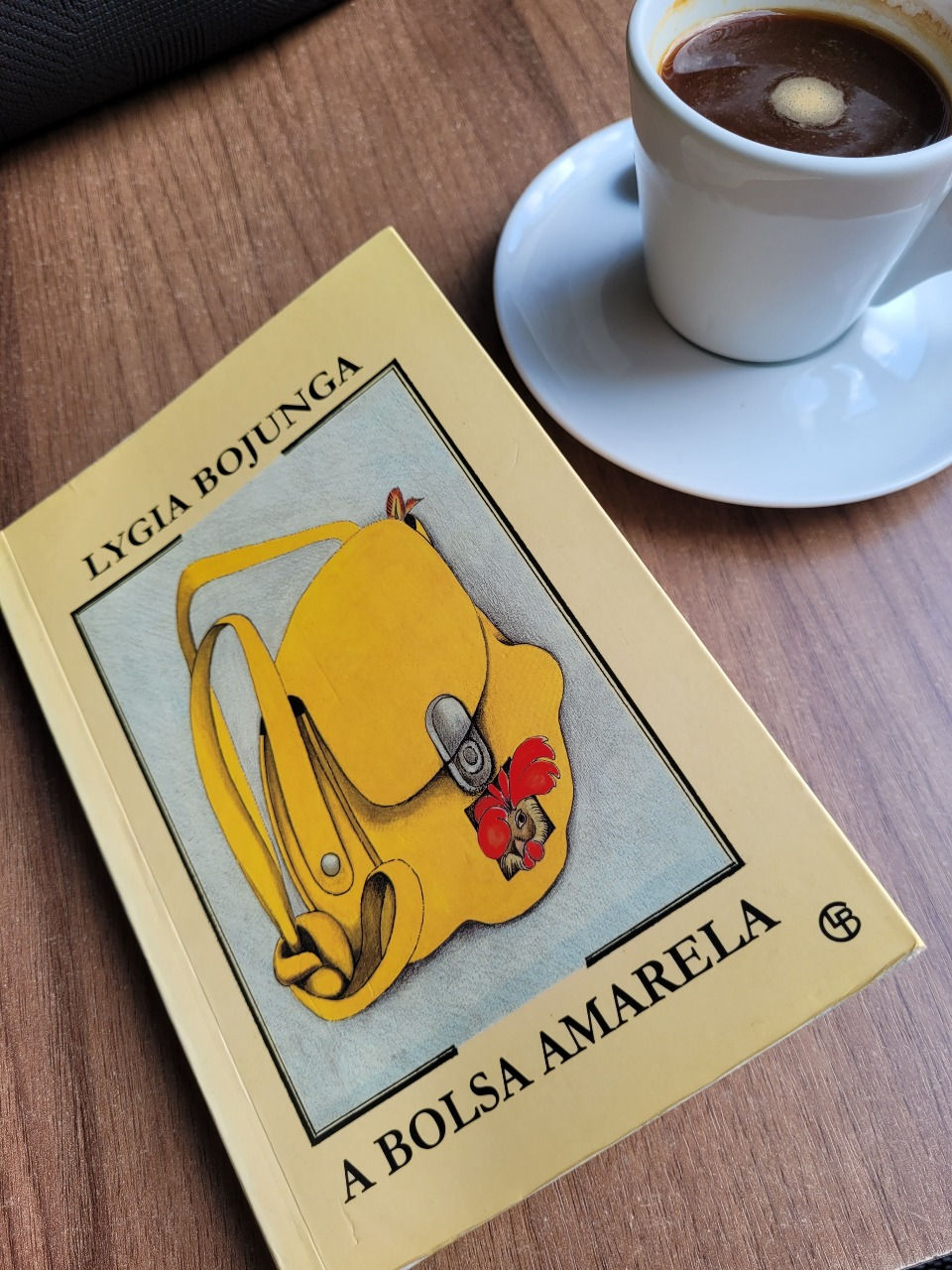
Comentários